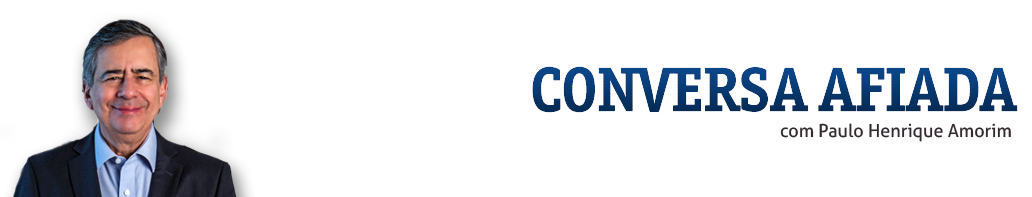O Capitalismo é um corpo condenado a morrer!
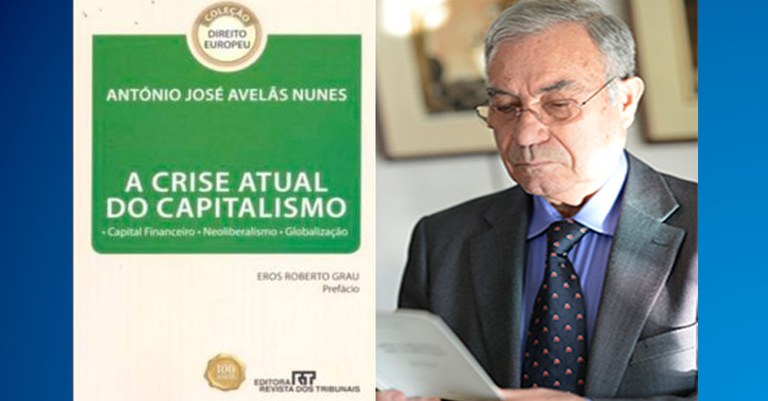
A crise não é da Europa, mas do Capitalismo, diz o professor Avelãs Nunes
O respeitadíssimo professor Avelãs Nunes, professor catedrático jubilado da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra - ver currículo no "em tempo" -, esteve no Brasil em meados de maio para uma série de palestras: na Universidade de Brasília e no Supremo Tribunal Federal, no Ceará e aproveitou para lançar o livro "A Revolução Francesa na História do Capitalismo".
Como não foi possível entrevistá-lo pessoalmente, aceitou responder a perguntas por e-mail.
-
O primeiro ato do Presidente francês Macron foi visitar Angela Merkel. Por quê?
AN – Porque vivemos na Europa alemã, que tem uma outra face, a Europa de Vichy. Esta é a Europa dos colaboracionistas, dos que, pelo menos desde o Tratado de Maastricht – que criou a União Europeia, o euro, o Banco Central Europeu e as regras alemãs destinadas a impor o deutsche euro como instrumento de domínio da Alemanha sobre os restantes países da zona euro –, se vêm sujeitando ao papel de ‘governadores’ das províncias (ou colónias) do império alemão em que transformaram os estados ditos soberanos que integram a eurozona.
Macron limitou-se a seguir o exemplo de Hollande, que Perry Anderson classificou como “o intendente francês do sistema neoliberal europeu”. O grave é que, agora, os dirigentes sociais-democratas europeus integram as fileiras da Europa de Vichy.
-
Há uma crise da Europa ou do capitalismo?
AN – Há uma crise do capitalismo e, no seio dela, uma crise da Europa, que não é apenas uma crise financeira, mas também uma crise económica, política e social, que se apresenta também como uma crise da democracia. Tratei desta problemática num livro editado em São Paulo (2012) pela Editora Revista dos Tribunais (A Crise Atual do Capitalismo ● Capital Financeiro ● Neoliberalismo ● Globalização, com Prefácio do Prof. Doutor Eros Roberto Grau). Tentarei uma síntese do meu pensamento a este respeito.
● O sinal de que vinha aí uma crise a sério do mundo capitalista foi dado por ocasião da chamada crise do petróleo (1973-1975). Por um lado, a Administração americana denunciou unilateralmente o compromisso assumido em Bretton Woods de garantir a conversão do dólar em ouro (35 dólares por onça troy de ouro): o mundo passou a viver em regime de câmbios flutuantes, i. é, o preço das divisas passou a ser regulado pelo mercado (pelos especuladores). Por outro lado, surgiu um fenómeno novo, a estagflação: ao contrário do que sempre tinha acontecido até então e contra tudo o que ensinavam os manuais de Economia, coexistiam agora, no quadro de um capitalismo altamente monopolizado, situações de inflação elevada e crescente e situações de estagnação ou mesmo de regressão da atividade económica. Acresce que, no rescaldo destas crises, ficou a claro um fenómeno já antes verificado e estudado em algumas economias, mas que ganhou agora foros de fenómeno global: a tendência para a baixa da taxa média de lucro. Por esta altura, começou a evidenciar-se um fenómeno que vem marcando, desde então, todo o mundo capitalista: o fenómeno da financeirização da economia.
A hegemonia do capital financeiro relativamente ao capital produtivo (na sua grande maioria titulado pelos chamados investidores institucionais, profundamente implicados na especulação sistemática) permite que aquele chame a si uma parte significativa da mais-valia criada nos setores produtivos. E como o lucro sai da mais-valia, também por aqui vem alimentada a referida tendência para a baixa da taxa média de lucro.
A financeirização da economia e o consequente desenvolvimento das atividades especulativas no quadro do capitalismo de casino abriram novos campos de atração do capital em busca de rendimentos elevados a curto prazo, em prejuízo do investimento (a médio e a longo prazos) nos setores produtivos (aqueles onde se gera a mais-valia).
Estes são, por outro lado, forçados a suportar taxas de juro mais elevadas (que se aproximem dos ganhos especulativos, num mundo em que impera o princípio da banca universal: os bancos comerciais não se distinguem dos bancos de investimento, podendo todos ‘investir’ em atividades especulativas e nos ‘jogos de casino’).
● A resposta a esta crise estrutural do capitalismo traduziu-se na chamada “revolução conservadora”, inspirada na ideologia neoliberal, iniciada com o thatcherismo no Reino Unido (1979) e com a reaganomics nos EUA (1980), que marcam o início deste novo ciclo, em que a ideologia neoliberal se confirmou, também na esfera política, como a ideologia dominante, a ideologia das classes dominantes, sob a liderança do capital financeiro. Em 1987, Alan Greenspan assume o comando do Sistema de Reserva Federal dos EUA, posto em que se mantém até 2006.
Na viragem dos anos 1980 para os anos 1990, e no rescaldo das dificuldades sentidas em todo o mundo capitalista na primeira metade da década de 1970, o ‘velho’ consenso keynesiano foi posto de lado. O chamado Consenso de Washington ‘codificou’ a estratégia para tentar travar aquela perigosa tendência no sentido da baixa da taxa média de lucro, e esta estratégia viria a ser facilitada pela emergência de um verdadeiro mercado mundial da força de trabalho – no qual entram em concorrência trabalhadores de diferentes partes do mundo, com diferentes histórias coletivas, com muito diferentes níveis e expectativas de vida e muito diferentes condições para enfrentar a sua situação como classe explorada –, no qual está à disposição do grande capital um enorme do exército de reserva de mão-de-obra, que constitui um estímulo poderoso à deslocalização de empresas, em busca de mão-de-obra mais barata e sem direitos (no quadro da UE, o alargamento aos países da Europa central e de leste atuou no mesmo sentido).
Por meados dos anos 1980, após a conversão de Mitterrand ao “socialismo do possível” (metendo na gaveta o programa que o levara à presidência da República francesa), as grandes linhas da ideologia neoliberal começaram a dominar o pensamento e a ação dos partidos socialistas e sociais-democratas, sobretudo na Europa, talvez convencidos de que, nas condições da época, o respeito pelo deus mercado era uma condição de ‘respeitabilidade’ política. Os dogmas neoliberais ganharam novos crentes, que recorrentemente vêm defendendo a sua ‘fé’ com o inadmissível ‘argumento’ thatcheriano de que não há alternativa [There is no Alternative].
A aproximação da ‘Europa’ à ideologia neoliberal acentuou-se e acelerou-se com o Ato Único Europeu (1986), que criou o mercado interno único e preparou as condições que haveriam de conduzir ao Tratado de Maastricht (1992): criação da União Europeia e da União Económica e Monetária (UEM), com a moeda única (o euro), o Banco Central Europeu (BCE) e o Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC). Estes são os momentos críticos da submissão da ‘Europa’ ao espírito do Consenso de Washington.
O sistema cerrava fileiras na tentativa de compensar a tendência para a baixa da taxa média de lucro e de prevenir e combater as crises cada vez mais frequentes. Até porque as dificuldades estruturais se acentuaram: a desindustrialização que seguiu à ‘internacionalização’ (i.é, à deslocalização das grandes empresas industriais para os paraísos laborais) mais difícil ultrapassar as situações de crise; mesmo quando o PIB começa a crescer, taxas elevadas de desemprego mantêm-se durante mais tempo; os novos postos de trabalho gerados oferecem salários mais baixos do que os vigentes antes da crise.
Após o desmoronamento da União Soviética e da comunidade socialista, os neoliberais de todos os matizes convenceram-se, mais uma vez, de que o capitalismo tinha garantida a eternidade, podendo regressar impunemente ao ‘modelo’ puro e duro do século XVIII. A vitória da “contra-revolução monetarista” abriu o caminho ao reino do deus-mercado, à sobre-exploração dos trabalhadores, assumindo sem disfarce o genes do capitalismo como a civilização das desigualdades.
O neoliberalismo consolidou-se como ideologia dominante. E o neoliberalismo não é o produto inventado por uns quantos ‘filósofos’ que não têm mais nada em que pensar. O neoliberalismo não existe fora do capitalismo, antes corresponde a uma nova fase na evolução do capitalismo. O neoliberalismo é o reencontro do capitalismo consigo mesmo, depois de limpar os cremes das máscaras que foi construindo para se disfarçar. O neoliberalismo é o capitalismo puro e duro do século XVIII, mais uma vez convencido da sua eternidade, e convencido de que pode permitir ao capital todas as liberdades, incluindo as que matam as liberdades dos que vivem do rendimento do seu trabalho. O neoliberalismo é o capitalismo na sua essência de sistema assente na exploração do trabalho assalariado, na maximização do lucro, no agravamento das desigualdades. O neoliberalismo é a expressão ideológica da hegemonia do capital financeiro sobre o capital produtivo, hegemonia construída e consolidada com base na acção do estado capitalista, que é hoje, visivelmente, a ditadura do grande capital financeiro.
É o neoliberalismo que informa a política de globalização neoliberal, apostada na imposição de um mercado único de capitais à escala mundial, assente na liberdade absoluta da circulação de capitais, que conduziu à supremacia do capital financeiro sobre o capital produtivo e à criação de um mercado mundial da força de trabalho, que trouxe consigo um aumento enorme do exército de reserva de mão-de-obra.
● O processo de globalização financeira assume, indubitavelmente, uma importância fundamental no quadro da política de globalização neoliberal, apoiada no princípio da liberdade de circulação do capital, pedra angular do mercado único de capital à escala mundial, no seio do qual os especuladores colocam o seu dinheiro e pedem dinheiro emprestado em qualquer parte do mundo.
A ‘subversão’ resultante da hegemonia do capital financeiro traduziu-se no enorme desvio de recursos disponíveis das atividades produtivas para atividades especulativas, que se traduzem na criação e destruição contínuas de capital fictício nos mercados financeiros. Ao contrário do que dizem os modelos, a nova ordem neoliberal resultante do Consenso de Washington veio aumentar os custos de funcionamento da economia real, na medida em que consagrou a especulação como a atividade-rainha do grande capital financeiro, desviando para os jogos de casino uma boa parte da riqueza gerada nas atividades produtivas.
As empresas não-financeiras tornaram-se cada vez mais dependentes dos financiamentos concedidos pelas instituições financeiras, as quais, nas condições criadas pela desregulação do setor, conseguem ganhos enormes, nomeadamente em operações especulativas a curto prazo. E esta ‘vantagem’ permite-lhes exigir taxas de juro reais consideravelmente elevadas (para poderem ‘concorrer’ com os ganhos da especulação).
Por razões várias, mas também porque, em boa parte, os estados dependem dos bancos privados para financiarem as políticas públicas (graças à invenção do dogma da independência dos bancos centrais), o capital financeiro adquiriu um enorme poder político, que usa para definir ‘regras do jogo’ que lhe permitem a “obtenção de rendimentos não como recompensa por se ter criado riqueza mas por açambarcamento de uma fatia excessiva de riqueza que não se produziu.” O grande capital financeiro passou a viver de rendas, porque “aprendeu a extrair dinheiro dos outros com métodos que esses outros mal conhecem.” É a este respeito que Stiglitz fala das práticas de rent-seeking, atividades que visam “moldar as leis e as regulações” em benefício dos 1% do topo, atividades “através das quais o atual processo político ajuda os ricos a expensas do resto da sociedade.”
Esta a origem e a essência da economia de casino, divorciada da economia real e da vida das pessoas comuns: o montante das transações financeiras internacionais é dezenas de vezes superior ao valor do comércio mundial; milhões e milhões de dólares circulam diariamente no mercado cambial único em busca de lucro fácil e imediato; os grandes especuladores acumulam enormes ganhos de capital; mas a especulação generalizada acentuou a instabilidade e a incerteza, o que também contribui para o agravamento dos custos de funcionamento da economia real.
Fica claro o significado último da tão falada financeirização da economia. E fica claro também porque é que o fenómeno descrito, para além de acentuar a supremacia do capital financeiro sobre o capital produtivo, veio facilitar o contágio dos riscos entre os vários componentes do mesmo grupo, propiciando a convergência e a acumulação do risco em um núcleo mais restrito de centros de decisão. Se uma destas entidades entra em colapso, a doença pode transformar-se rapidamente em pandemia à escala global. Nisto consiste o risco sistémico, o risco de desmoronamento do sistema financeiro à escala mundial (o risco de desmoronamento iminente de um verdadeiro castelo de cartas).
À escala global, o resultado é o que seria de esperar: grande instabilidade das taxas de juro e das taxas de câmbio, turbulência nas bolsas de valores e nos mercados de câmbios, crises recorrentes nas economias de vários países. O capitalismo sem crises deu lugar ao capitalismo de casino, ao capitalismo do risco sistémico, ao capitalismo sem risco e sem falências para os bancos, ao capitalismo assente no crime sistémico.
● A Grande Depressão de 1929-1933 foi precedida de um período caraterizado por intensa atividade especulativa liderada pelo grande capital financeiro e por uma enorme desigualdade. Isto mesmo está a acontecer agora. Desde meados dos anos 1980, os ricos foram ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Entre 2000 e 2007, os 1% do topo arrecadaram 75% da riqueza criada nos EUA. Em 2007, a elite dos mais ricos (0,1%) tinha um rendimento 220 superior à média dos 90% da base.
A desigualdade na distribuição do rendimento é um dos fatores que mais favorece a especulação. E também por esta via as desigualdades sociais potenciam a ocorrência de crises, porque, ao longo da história do capitalismo, a especulação financeira tem sempre gerado crises.
Tomando como ponto de partida o crash da bolsa de Nova York em 1967, as economias capitalistas sofreram, a partir dos anos 1970, mais crises do que em qualquer outro período. A desregulação acelerada a partir dos anos 1980 gerou mais de cem crises em todo o mundo. E esta sucessão de crises nas últimas décadas, foi um claro anúncio da crise atual, iniciada nos EUA em 2008-2009, que se vem apresentando como uma crise estrutural do capitalismo, neste tempo de domínio do capital financeiro.
O ritmo das crises acentuou-se a partir dos anos 1980: a crise dos países em desenvolvimento em 1982; a crise dos mercados de ações nos EUA em 1987; a crise (também nos EUA) dos mercados de obrigações de alto risco e das caixas económicas (savings and loans), em 1989/1990; a crise bancária dos países escandinavos no início da década de 1990; a crise no Japão, ao longo desta década; a crise do Sistema Monetário Europeu, em 1992/93; em 1994, nova crise no mercado obrigacionista americano; ainda em 1994/1995, a crise do peso mexicano; a crise das moedas asiáticas em 1997/98; a crise do rublo em 1998/99; o chamado e-crash, a crise (2000-2002) que afetou a chamada ‘nova economia’ (a economia das novas tecnologias: biotecnologia, informática, computação, telecomunicações), particularmente nos EUA e na Europa; a crise do real brasileiro em 1999; a grave crise financeira, económica, política e social da Argentina (2001/2002), por muitos considerada o maior desastre das receitas neoliberais impostas pelo FMI enquanto ‘gestor de negócios’ do grande capital financeiro internacional.
A crise que teve o peso mexicano como protagonista foi a primeira grande crise dos mercados globalizados, e fez tremer o sistema financeiro dos EUA e, por reflexo, o sistema financeiro de todo o mundo capitalista. No rescaldo da crise, Michel Camdessus (então Diretor-Geral do FMI) não hesitou em afirmar, sem qualquer cerimónia, que “o mundo está nas mãos destes tipos”; o Primeiro-Ministro britânico comentou que o jogo dos especuladores assume “dimensões que o colocam fora de qualquer controlo dos governos e das instituições internacionais”; mas o Presidente francês Jacques Chirac foi o mais radical: os especuladores são a “a aids da economia mundial”.
Apesar deste alarme dos criadores perante as suas próprias criaturas, a verdade é que nada se fez para mudar as raízes do mal.
● O capital financeiro descobriu a ‘arte’ de se apropriar de uma parte (relevante e crescente) da mais-valia global (recorrendo à terminologia marxista). Em resultado desta ‘descoberta’ têm-se agudizado as dificuldades do capital na realização da mais-valia, nos setores produtivos, arrastando consigo a tendência para a baixa da taxa de lucro, que a crise de 1973-1975 evidenciara.
Como é sabido, esta tendência só pode ser contrariada à custa de políticas que reduzam os salários e os direitos dos trabalhadores, enquanto for social e politicamente possível aumentar a sua exploração para assegurar a mais-valia (de onde sai o lucro, que é o combustível que faz andar a máquina capitalista). E estas políticas sistemáticas têm-se traduzido na deslocalização das atividades produtivas industriais para países de mão-de-obra barata e sem direitos, em ataques ao movimento sindical e à contratação coletiva, na redução dos salários e na precarização do emprego, na redução dos custos da mão-de-obra, na diminuição do poder de compra dos salários e da parte dos salários no rendimento global. Todos sabemos, porém, que estas políticas potenciam a ocorrência de crises.
Num artigo publicado em L’Express em finais de 2011, até o insuspeito Jacques Attali vem reconhecer que “esta crise foi consequência do enfraquecimento da parte dos salários no valor acrescentado”. Só que a importância do “enfraquecimento da parte dos salários no valor acrescentado” como elemento potenciador de crises de sobreprodução é de há muito conhecida. Marx esclareceu esta questão. E Keynes, à sua maneira, deixou claro que as enormes desigualdades de rendimento não favoreciam o crescimento económico, antes provocariam a insuficiência da procura efetiva, que ele considerava a causa das crises cíclicas próprias do capitalismo.
Partilhando certamente o ponto de vista de Hayek, segundo o “o problema do desemprego é um problema de salários”, o neoliberalismo assumiu que a baixa dos salários reais é o elemento indispensável para tornar atrativa a contratação de trabalhadores desempregados (tese cuja validade ninguém demonstrou até hoje) e vem trabalhando no sentido de ‘libertar’ o mercado de trabalho das ‘imperfeições’ que o descaraterizariam (contratação coletiva, salário mínimo garantido, proteção legal contra os despedimentos sem justa causa, subsídio de desemprego, enfim tudo o que decorre do estado social).
Ao mesmo tempo, a atuação do estado capitalista centrou-se no objetivo de garantir ao capital a parte de leão dos enormes ganhos de produtividade das últimas décadas, deixando os trabalhadores de fora da partilha. O dogma neoliberal foi cumprido. Mas o mundo não ficou mais próspero nem mais feliz com o agravamento da exploração e com o empobrecimento relativo (e mesmo absoluto) da grande massa dos trabalhadores, mesmo nos chamados ‘países ricos’.
Estudos referentes aos EUA indicam que, nos últimos trinta anos, as crises do capitalismo têm-se caraterizado por uma enorme dificuldade em retomar o crescimento do emprego: a economia começa a crescer, mas o desemprego mantém-se, a níveis elevados. Isto significa que, não recuperando o seu posto de trabalho, os trabalhadores não recebem o seu salário e não dispõem de rendimentos para comprar as mercadorias que o sistema produz para vender. E dizem também que os novos postos de trabalho criados no setor dos serviços oferecem, na sua maioria, salários bastante mais baixos do que os praticados anteriormente na indústria. Aqui pode radicar um fator estrutural gerador da baixa dos salários reais na sociedade americana, potenciando a ocorrência de crises cíclicas, cada vez mais difíceis de ultrapassar, no que se refere ao desemprego, dada a redução das atividades produtivas na indústria: é mais difícil criar novos postos de trabalho e os que existem oferecem salários mais baixos.
Em finais de 2007, alguém tão insuspeito como Alan Greenspan reconhecia que “a parte dos salários no rendimento nacional nos EUA e em outros países desenvolvidos atingiu um nível excepcionalmente baixo segundo os padrões históricos, ao invés da produtividade, que vem crescendo sem cessar.” E um documento de trabalho apresentado numa reunião do Banco de Pagamentos Internacionais (julho/2010) chama a atenção para o facto de faz uma longa análise crítica deste mesmo fenómeno (“que não tem precedentes nos últimos 45 anos”): “a parte dos lucros ser hoje invulgarmente elevada, e a parte dos salários invulgarmente baixa.” No Ano Europeu de Luta Contra a Pobreza, o Parlamento Europeu aprovou um Relatório onde se diz que, em 2010, cerca de 85 milhões de cidadãos da UE são afetados por situações de pobreza e de exclusão social (incluindo 19 milhões de crianças) e que mais de 19 milhões de trabalhadores europeus são considerados pobres.
Até The Economist foi forçado a aceitar que “a desigualdade chegou a um nível que pode ser ineficiente e má para o crescimento.” Na verdade, ao reduzir os salários, o capital aumenta a sua taxa de mais-valia (em termos absolutos e relativos), mas reduz também o poder de compra dos trabalhadores, colocando em risco a realização da mais-valia (as crises de sobreprodução inerentes ao capitalismo são, precisamente, crises de realização da mais-valia). E as crises são ‘necessárias’ para interromper o processo de acumulação do capital e ‘destruir’ o capital em excesso (equipamentos, edifícios, recursos materiais, conhecimento, trabalhadores ‘condenados’ ao desemprego em massa). Foi o que aconteceu, mais uma vez.
● Durante as décadas de 1980 e 1990, recorreu-se à chamada economia do crédito, usando-se e abusando-se dos mecanismos do crédito ao consumo e de outras modalidades de crédito pessoal para ‘viciar’ as pessoas e as famílias a gastar o que tinham e o que não tinham, acreditando-se talvez – ainda que sem qualquer base séria – que tal expediente poderia compensar os resultados das políticas orientadas para a redução do poder de compra dos trabalhadores.
Esta prática acentuou-se, nos EUA, a partir dos anos 2000: o crédito fácil e barato às famílias (em especial o crédito garantido por hipotecas) constituiu o expediente utilizado para contornar os efeitos negativos da baixa dos salários reais sobre o consumo agregado, conseguindo mesmo assegurar um certo aumento do consumo. Enquanto a crise não rebentou, uma taxa de crescimento do PIB algo superior à registada na UE (onde alguns países recorreram a idêntico estratagema) conseguiu disfarçar os efeitos depressivos estruturais daquele fenómeno da baixa dos salários reais.
O ambiente especulativo levou com frequência à concessão de crédito a quem não tinha capacidade financeira para pagar os respetivos encargos e a quem comprava as habitações apenas com fins especulativos (ganhar, a curto prazo, com a valorização dos imóveis). Mas estes créditos, pretensamente garantidos por hipotecas pouco ou nada fiáveis, eram sistematicamente utilizados na titularização, i.é, na ‘produção’ de novos títulos obrigacionistas destinados ao ‘mercado’ da especulação. Nos dez anos posteriores a 2000, o montante dos créditos titularizados multiplicou por cem, constituindo a titularização o instrumento de engenharia financeira que alimentou o aumento artificial do (falso) poder de compra das famílias.
A expansão descontrolada dos empréstimos subprime mostra que o capital financeiro não hesitou em transformar a vida das pessoas numa fonte direta de lucro, subordinando o direito social à habitação ao seu propósito de obter lucros a qualquer preço.
Como sublinha Joseph Stiglitz, a prática do subprime foi um fruto da “depravação moral” dos banqueiros. Sabendo que “uma pessoa pobre pode ter muito pouco, mas existem tantos pobres que um pouco de cada um equivale a muito”, fizeram do subprime “a forma de rent-seeking mais escandalosa”, servindo apenas o objetivo de “explorar os mais pobres e os menos educados e mal informados”, obtendo deles somas elevadíssimas, “saqueando estes grupos com empréstimos predatórios e práticas abusivas em cartões de crédito.” O escândalo foi de tal ordem que, já em 2004, o próprio FBI chamava a atenção, publicamente, para o que designava “uma epidemia de fraudes hipotecárias”. As entidades reguladoras fizeram de conta que não viam nada e a Administração de George W. Bush não só não fez nada como deu a entender, com suficiente clareza, que nada faria: “A razão é óbvia”, escreve Stiglitz: “o setor financeiro usou o poder político para garantir que o estado deixasse prosseguir impunemente estas práticas criminosas, fruto da sua “depravação moral” e da “depravação moral” dos titulares do poder político que se deixaram subornar.
O risco afetou rapidamente não só os bancos mas também as companhias de seguros que tinham feito o seguro (e até o resseguro) dos créditos concedidos, bem como os fundos de investimento controlados por aqueles, cujas dificuldades aumentaram porque o valor de mercado dos prédios hipotecados foi baixando progressiva e acentuadamente (entre 5% e 10% em 2007; em maior escala ainda em 2008), por excesso de oferta e baixa da procura.
Quando os produtos financeiros derivados resultantes da titularização dos créditos hipotecários, embora teoricamente negociáveis, deixaram de ser negociados na prática, porque ninguém os queria, chegou-se ao fim do caminho: a banca do ‘casino’ ficou sem fundos; as famílias estavam mais endividadas (muitas perderam as casas) e as taxas de poupança baixaram dramaticamente.
Para quem não esquece as lições da História, era inevitável que a crise chegasse, porque as crises são inerentes ao capitalismo, porque as políticas de arrocho salarial e a especulação desenfreada anunciavam isso mesmo, porque os abalos das várias crises que entretanto ocorreram faziam esperar um ‘terramoto’ de maiores dimensões. Como todos sabemos, o carnaval acaba sempre em quarta-feira de cinzas…
Por pressão do capital financeiro, o estado capitalista, fiel aos dogmas do neoliberalismo, concedeu todas as liberdades à especulação. Quando o ‘negócio’ faliu, foi chamado para salvar os especuladores, tendo respondido à chamada com toda a solicitude e determinação, convocando o povo para pagar a fatura. Invocando o risco sistémico (que até então ignorara), a Administração de G.W. Bush, que sempre considerou a ‘intervenção’ do estado na economia como um dos sinais da existência do império do mal, protagonizou a mais dispendiosa operação do estado desde os anos trinta (700 mil milhões de dólares para salvar os bancos, em setembro/2008). E proclamou que não deixaria falir mais bancos. Estava inventado o capitalismo sem falências.
No final de 2008, a crise financeira degenerou em crise económica, que teve o momento mais simbólico no afundamento da General Motors, o símbolo da indústria americana e do poderio americano (ficou célebre o slogan: o que é bom para a GM é bom para os EUA), salva à custa de milhões e milhões de dólares saídos dos bolsos dos contribuintes.
● Perante a crise que ‘rebentou’ em finais de 2007, foi patente a preocupação dos produtores e difusores da ideologia dominante de esconder a sua natureza de crise estrutural do capitalismo.
Alguns defenderam que esta é uma crise do neoliberalismo, procurando passar a ideia de que o capitalismo não é para aqui chamado: o capitalismo não tem nada que ver com as crises, porque o capitalismo é eterno (é o fim da história) e não há alternativa ao capitalismo. O que é preciso é abandonar o neoliberalismo. Como quem quer esconjurar os fantasmas, houve quem adiantasse logo a garantia de que o neoliberalismo morreu (tal como, diziam, o comunismo morreu há vinte anos…).
Insinuaram outros que, em boa verdade, esta crise seria uma simples crise de costumes, uma ‘doença benigna’, resultante da falta de ética do capital financeiro, patente na atuação desregrada e imoral de uns quantos gestores da alta finança. A Chanceler alemã foi ao ponto de afirmar que a crise era o resultado de “excessos do mercado”, coisa que ninguém esperaria de uma instituição acima de toda a suspeita, tão natural, tão espontânea, tão infalível, tão respeitável, tão insubstituível.
A ‘tese’ da doença benigna está presente também no pensamento dos que sustentaram que o que falhou foi a regulação e a supervisão (o capitalismo, esse, continua perfeito e eterno, sem alternativa…).
É caso para perguntar: onde está a surpresa? Subtraída à soberania do estado a função reguladora, poderia esperar-se que ela tivesse êxito, uma vez confiada às agências reguladoras ditas independentes?
A verdade é que foi sob o seu olhar cúmplice que o império do capital financeiro impôs a desregulamentação de toda a economia e, em especial, do setor financeiro, e conseguiu o que queria: a entrega dos chamados ‘mercados’ aos especuladores e a entrega das famílias, das empresas produtivas e dos próprios estados nacionais aos “mercados”, isto é, aos especuladores, aos que constituem a aids da economia mundial (Jacques Chirac dixit).
A verdade é que foi sob a ‘autoridade’ destas agências reguladoras que os bancos e o sistema financeiro em geral, libertos do controlo do estado, se lançaram no aventureirismo mais irresponsável (para usar linguagem diplomática), comprometendo nos ‘jogos de casino’ não só os interesses dos seus clientes, mas todas as atividades produtivas e criadoras de riqueza.
Criadas em pleno ‘reinado’ do neoliberalismo, estas agências e a sua ‘independência’ foram ‘inventadas’ porque todos sabem (a começar pelos seus ‘inventores’) que, libertas do dever de prestar contas perante os órgãos do poder político legitimados democraticamente e subtraídas ao escrutínio político do povo soberano, essas agências ficam mais vulneráveis do que o estado à influência dos interesses económicos dominantes. Filhas do neoliberalismo, elas adotaram, naturalmente, os dogmas do seu criador.
O destino desta ‘regulação neoliberal’, amiga do mercado, só poderia ser a desregulação: o estado (que foi, de facto, estado desregulador, estado fingidor, estado enganador), cumpriu o seu papel de desregular os mercados (nomeadamente o mercado financeiro) e de garantir a livre circulação de capitais e a livre criação de produtos financeiros derivados.
Para termos a certeza de que tudo correu como desejado e como previsto, basta recordar que o Sr. Alan Greenspan foi (entre 1987 e 2006) o responsável pela agência reguladora mais importante do mundo (o Sistema de Reserva Federal norte-americano - FED), sabendo todos que ele sempre se definiu como “defensor ferrenho do livre funcionamento dos mercados”, nunca escondeu a sua rejeição de qualquer tipo de regulação que não seja a auto-regulação pelo mercado e sempre fez gala de afirmar publicamente a sua fé na mão invisível (fé que reafirmou já em plena crise). Quem o nomeou para o cargo conhecia-o bem. Por isso o nomeou. Mas é claro que quem entrega à raposa a guarda da capoeira não quer proteger as galinhas da capoeira da gula da raposa; quer, evidentemente, alimentar a raposa à custa do sacrifício das galinhas.
Esta é, pois, mais uma crise do capitalismo, uma crise estrutural do capitalismo, cujas causas últimas, indo além das bolhas especulativas e dos jogos de casino que tornaram a crise indisfarçável, radicam na própria essência do capitalismo, tendo-se acentuado progressivamente à medida que se foram consolidando os resultados da mundialização feliz de que falam os apóstolos da política de globalização neoliberal dominante.
Não será a última, mas ela ajudará a enfraquecer ainda mais este corpo condenado a morrer (como tudo o que é histórico) e a dar lugar a um mundo diferente, apesar de todos os meios – e são muitos – que podem ainda prolongar-lhe a vida.
● Embora alguns ‘comentadores de serviço’ tivessem vindo a público anunciar que a ‘Europa’ não seria atingida pela crise que rebentara nos EUA, os mais avisados e mais sérios admitiam que a crise do capitalismo poderia assumir na Europa dimensões catastróficas. E foi isto que aconteceu.
Seguindo o exemplo dos EUA, o Conselho Europeu de outubro/2008 anunciou também a entrada na era do capitalismo sem falências, ao decidir que não deixaria falir nenhuma instituição financeira importante, oferecendo assim ao grande capital financeiro um seguro gratuito, que cobre mesmo ações irresponsáveis e até criminosas. Os estados europeus gastaram milhões de milhões de euros no salvamento de instituições financeiras cercadas pelo fogo que elas próprias tinham ateado, num claro processo de coletivização dos prejuízos para garantir os lucros privados. O esforço financeiro feito para salvar os especuladores conduziu ao aumento do défice público e da dívida externa de vários países.
Como é sabido, a consolidação do mercado interno, a construção da UEM e a densificação da União Europeia têm-se traduzido, para os estados-membros, na perda de soberania (em europês, fala-se de soberania partilhada) em vários domínios. E esta perda tem sido agravada pela alienação do setor empresarial do estado, que retira aos estados nacionais qualquer possibilidade de atuação direta na economia enquanto empresários com presença relevante em setores estratégicos, com fortes efeitos de irradiação em outros setores da economia.
Importa ter presente, porém, que, apesar das perdas de soberania atrás referidas, a UE não é um estado federal: o Parlamento Europeu não é a sede do poder político da União; a Comissão Europeia não é um governo federal; um orçamento que mobiliza cerca de 1% do PIB comunitário está longe de um orçamento federal digno desse nome.
Isto significa que as competências perdidas pelos estados-membros não são transferidas para as instituições da União. À luz dos Tratados estruturantes da UE, nenhuma das instituições comunitárias tem a competência para (ou a responsabilidade de) definir políticas anti-cíclicas, nem existem no orçamento da UE os recursos necessários para as financiar. E como as instituições da União não são órgãos de soberania não dispõem da chamada competência das competências, i.é, não podem atribuir a si próprias novas competências.
No quadro da UEM, o euro é uma moeda sem estado: é a moeda de um espaço que não tem um parlamento nem um governo dotados de legitimidade e de competência para definir políticas e dotados de meios para as executar, de um espaço que não tem, por isso mesmo, uma política económica integrada nem um orçamento suficientemente forte para ter efeitos redistributivos, nem tem uma política fiscal minimamente harmonizada, nem assume uma dívida comunitária (uma ‘dívida federal’). E o BCE, em vez de ser um verdadeiro banco central capaz de ajudar a resolver os problemas de financiamento dos estados-membros da zona euro, mais parece uma espécie de arcebispo da ‘igreja neoliberal’ na Europa, piamente empenhado em atuar de forma a consolidar a sujeição dos estados nacionais ao deus-mercado e ao império do capital financeiro.
No que se refere à zona euro, os estados-membros perderam a capacidade de se financiar através da emissão de moeda. Ao menos para os estados mais fracos, é, verdadeiramente, a privatização do estado, colocando os estados nacionais na mesma situação de qualquer particular: quando precisam de dinheiro, vão aos “mercados” e estes é que decidem se concedem crédito ou não (e em que condições), decidindo, em último termo, o que convém ou não convém ao país, apesar de não terem nenhum mandato democrático para o exercício dessa função de gestores da res publica.
Esta crise veio confirmar o que já se sabia: em caso de crise grave, a UE não tem meios para se defender, não tem órgãos com competência política e com meios financeiros para definir políticas comunitárias que possam ser mobilizadas para ajudar os países mais fracos a ultrapassá-la. E falta a esta ‘Europa’ a cultura da solidariedade, sem a qual não se pode falar de um espaço político integrado. Como tem sido visível desde a eclosão da crise, a UE e as instituições comunitárias foram postas entre parêntesis. Tudo se resolve (ou nada se resolve) no âmbito das relações intergovernamentais, segundo a correlação de forças reinante, à margem das instituições comunitárias (e, sobretudo, dos povos da Europa), por imposição do mais forte e ao ritmo do calendário eleitoral da Alemanha e da estratégia eleitoral da Srª Merkel e do seu partido.
● Perante a duração e a intensidade da crise que teve início em 2007/2008, não parece ousado concluir que, como era de esperar, este novo/velho capitalismo não resolveu nenhum dos seus problemas, antes agravou as suas contradições. A crise do euro (e a especulação contra o euro) atingiu duramente os países mais débeis (Grécia, Irlanda e Portugal), que foram deixados sozinhos a defender a moeda única: os dirigentes europeus não quiseram assumir a crise do euro como um problema comunitário, optando por tratar estes países como ‘criminosos’ (ou ‘pecadores’) que mereciam ser castigados e impondo aos respetivos povos a ‘pena’ de pagar sozinhos os custos da defesa do euro do ataque dos especuladores.
A ‘penitência’ traduziu-se na imposição de medidas de austeridade, que provocaram diminuição da produção, aumento do desemprego, baixa dos salários reais, redução dos direitos sociais, asfixia financeira dos sistemas públicos de segurança social, e puseram em causa princípios fundamentais do estado de direito democrático.
Num mundo e num tempo em que a produtividade do trabalho atinge níveis até há pouco insuspeitados, um Grupo de Reflexão constituído no âmbito do Conselho Europeu e presidido por Felipe González concluiu que, “pela primeira vez na história recente da Europa, existe um temor generalizado de que as crianças de hoje terão uma situação menos confortável do que a geração dos seus pais”. Nesta Europa do capital, um em cada quatro jovens não encontra um posto de trabalho. Na Grécia, um em cada cinco sem abrigo tem um curso superior.
São sinais de alarme particularmente significativos.
A presente crise do capitalismo tem evidenciado as debilidades e as contradições de um sistema económico e social que não vive sem situações recorrentes de desemprego e de destruição do capital em excesso e que hoje só sobrevive à custa do agravamento da exploração dos trabalhadores, para tentar contornar os efeitos da tendência para a baixa da taxa de lucro e para tentar satisfazer as rendas (verdadeiras rendas feudais) de que vive o grande capital financeiro. A discussão sobre o fim do estado social – que a crise tem dramatizado – talvez seja um sinal de que, como o aprendiz de feiticeiro, o capitalismo pode morrer imolado pelo fogo que está a atear.
A “revolução conservadora” de que alguns falam, ao tentar justificar a ‘legitimidade’ para governar acima da lei e contra a Constituição, revela bem o projeto totalitário que está subjacente à ideologia neoliberal: a liberdade de escolha friedmaniana, ‘descoberta’ pelos ‘revolucionários’ de hoje, é apenas a outra face da morte da política, ou seja, da morte da cidadania e da morte da democracia. E representa uma forma velada de fascismo, o fascismo amigável ou o fascismo de mercado: o único direito que vale é o direito do mais forte; o mais fraco não tem direitos nenhuns. A liberdade de escolha esconde apenas a ideologia totalitária do pensamento único. Recorrendo, uma vez mais, a Wolfgang Streeck, direi que “o neoliberalismo é incompatível com um estado democrático.” Paul Krugman disse-o de um modo que está mais próximo da realidade dos nossos dias: o receituário neoliberal, que inspira a Europa do euro, “exige sacrifícios humanos para apaziguar deuses invisíveis.” E – acrescento eu – para gáudio de todos os Schäuble bem visíveis, seus apóstolos.
Não admira que vá crescendo o número daqueles que se interrogam sobre os perigos que corre a democracia na Europa. As preocupações quanto à preservação da democracia adensam-se quando vemos que os estados se vêm comportando, às escâncaras, como estados de classe, não escondendo o seu compromisso com o grande capital financeiro e mostrando que estão dispostos a tudo (e o estado capitalista já mostrou que é capaz de tudo!) para impor as suas políticas de ‘punição’ e de agravamento da exploração dos trabalhadores.
Os fascismos do século XX surgiram justamente nos países em que o estado capitalista não conseguiu, no respeito das regras democráticas, responder minimamente às aspirações dos trabalhadores e salvaguardar, ao mesmo tempo, o estatuto e os privilégios do capital. O discurso neoliberal, apelando sempre ao deus-mercado e às regras de ouro dogmatizadas ao serviço do grande capital financeiro – que quer, a todo o custo, preservar e aumentar as rendas parasitas de que se alimenta –, enuncia com suficiente clareza a vontade de levar por diante programas premeditados de anulação da soberania e de aviltamento da dignidade de países soberanos, programas bárbaros de empobrecimento e ‘colonização’ de povos inteiros, sem ter de respeitar qualquer lei ou qualquer princípio de ética política, em nome do princípio ‘revolucionário’ de que os fins justificam os meios, por mais cruentos que estes sejam.
3) A União Europeia pode sobreviver com uma moeda única?
4) Qual o futuro dos países mediterrânicos (Portugal, Espanha, França e Grécia) na União Europeia?
AN – Tentarei responder a estas duas perguntas na mesma resposta.
O Tratado de Maastricht (1992), veio alterar profundamente a “natureza ideológica da comunidade”: esta passou a ser dirigida segundo princípios “ultraconservadores”, privando os estados-membros de autonomia em matéria de política monetária, cambial e orçamental e pondo em causa abertamente o chamado modelo social europeu. Mas ele foi apoiado militantemente por todos os partidos socialistas e sociais-democratas europeus, apesar de saberem que o novo “mundo maastrichtiano”, concebido à medida dos interesses da Europa do capital, era um duro golpe na Europa social.
A Grande Alemanha (entretanto renascida com a anexação da RDA pela RFA) conseguiu impor os seus interesses e as regras que os protegem, nomeadamente quanto aos critérios nominais do Pacto de Estabilidade e Crescimento (inflação não superior a 2%; défice das contas públicas não superior a 3% do PIB; dívida pública não superior a 60% do PIB), às caraterísticas do deutsche euro e ao estatuto de independência do BCE, que consta do Tratado de Maastricht (o que o torna pétreo) e que acentua o estatuto de independência do Banco Central da Alemanha, aprovado em 1957, dentro dos cânones do ordoliberalismo alemão (uma doutrina muito centrada no império das regras, no pavor da inflação, na defesa da ‘virtude’ do rigor orçamental, na proclamação do ‘pecado’ do défice e da dívida).
Em virtude da sua inconsistência como união monetária, da sua estrutura e do seu modo de funcionamento (em tudo conformes aos cânones mais fundamentalistas do neoliberalismo), a União Económica e Monetária veio destruir os sistemas de defesa dos países mais débeis da Eurozona em situações de crise (nomeadamente, a possibilidade de desvalorização da moeda, a manobra das taxas de juro e a adoção de políticas inflacionistas). Em contrapartida, ela veio reforçar o papel da Alemanha como potência hegemónica.
As ‘regras do jogo’ que vieram com o euro foram impostas pela Alemanha, que construiu com base nelas a Europa alemã, impedindo o crescimento económico e o desenvolvimento social dos países mais débeis.
Desde a entrada do euro em circulação, a ‘Europa’ praticamente não cresce. Mas o deutsche euro permitiu à Alemanha passar de uma balança de pagamentos negativa em 1991 para uma balança de pagamentos largamente excedentária: o reverso da medalha é o crescimento acentuado do défice da balança de pagamentos correntes de vários países da zona euro. A Alemanha ‘exportou’ os seus défices externos para os países mais fracos que com ela partilham a mesma moeda. E esta ‘exportação’ foi a mola impulsionadora da dívida externa (dívida pública e dívida privada) de vários países da zona do euro, em especial os ‘países do sul’.
No fim de um ciclo de crises recorrentes do capitalismo (iniciado com as crises do início da década de 1970, que tornaram evidente a tendência para a baixa da taxa média de lucro e deixaram antever a possibilidade de uma grave crise estrutural), o grande capital financeiro (o agente responsável pelo crime sistémico que é a marca de água do capitalismo atual) convenceu-se de que o tempo dos compromissos necessários (estado social, concertação social entre parceiros sociais amigos) passou à história, porque a correlação de forças, no quadro de um mundo moldado pelas políticas de globalização neoliberal, lhe permite pôr os trabalhadores no seu lugar e impor políticas que levem até ao extremo a exploração de quem trabalha, na tentativa de contrariar a referida tendência para a baixa da taxa média de lucro.
A verdade é que estas políticas potenciam a ocorrência de crises, cada vez mais profundas. Foi o que aconteceu a partir de 2008.
Quando a crise que varre todo o mundo capitalista bateu à porta da Europa (cujos dirigentes começaram por dizer que ela era um problema da América…), a Alemanha (cujos bancos estavam comprometidos atá à medula com todas as manobras especulativas que obrigaram os povos a pagar o seu salvamento) ‘inventou’ a chamada crise das dívidas soberanas, proclamou que ela era um problema dos países do sul (gente preguiçosa e habituada a viver acima das suas posses), aos quais impôs a penitência de políticas de austeridade que têm provocado verdadeiras tragédias humanitárias e têm ‘confiscado’ aos povos que as sofrem (é o caso da Grécia e de Portugal) os instrumentos que constituem a base da sua soberania e da sua capacidade de desenvolvimento autónomo.
Muita gente defende hoje o que, até há pouco tempo, era considerado pela ideologia dominante, uma verdadeira heresia: o euro não cumpriu as promessas que o acompanharam.
A adoção do euro como moeda única arrastou consigo alguns ‘danos colaterais’, em especial o Banco Central Europeu (com a sua independência e as suas competências de inspiração monetarista) e o Pacto de Estabilidade e Crescimento, um verdadeiro pacto de estagnação, por força dos estritos critérios ultra-monetaristas que impõe em matéria de inflação, de défice público e de dívida pública.
As estruturas de domínio do grande capital financeiro reforçaram-se, mais recentemente, com o chamado Tratado Orçamental: com a sua regra de ouro do equilíbrio orçamental (e outras ‘regras’ igualmente perigosas, embora de metais menos nobres) só pode entender-se no quadro de uma estratégia destinada a consolidar o controlo do capital financeiro (os chamados ‘mercados’) sobre a economia real e sobre as políticas económicas da UE e dos seus estados-membros (política monetária, política cambial, política orçamental).
Como tudo o que de relevante vem acontecendo na UE desde Maastricht, este Tratado é “um modelo político de marca alemã”, um produto imposto não por uma “Alemanha cooperante”, mas pela Grande Alemanha, uma Alemanha liberta da “consciência de uma herança histórico-moral comprometedora” que, após a derrota militar, política e ética da Alemanha nazi, ditou uma atitude de “moderação diplomática e disponibilidade para adotar também as perspetivas dos outros”, uma Alemanha ciosa de afirmar “uma clara pretensão de liderança” numa “Europa marcada pelos alemães.” É a leitura de Jürgen Habermas, que não é, manifestamente, um perigoso esquerdista…
Impostas pela Alemanha a sua estrutura e as suas regras, só a Alemanha tem ganho com este deutsche-euro. Uma vitória que pode vir a tornar-se uma vitória de Pirro. Porque a verdade é que, com a chegada do euro, a economia europeia entrou num período de crescimento rastejante, com quebra do PIB em alguns países, durante uma parte dos anos posteriores a 2000. Entre 2008 e 2011, doze países da UE (entre os quais o RU, a Itália e a Espanha) registaram um crescimento negativo. Mesmo a economia alemã não foi além de um crescimento do PIB de 0,7% em 2012, e a França não escapou à recessão (apesar de não ter cumprido as metas acordadas para o défice das contas públicas em 2012 e em 2013). No final de 2012 a eurozona, no seu conjunto, estava em recessão técnica, com uma taxa de crescimento negativa (- 0,1%) nos últimos três trimestres.
A Europa do capital mobilizou mais de 200 mil milhões de euros para resgatar bancos, mas não conseguiu reunir mil euros para financiar o investimento produtivo e a criação de emprego e de riqueza, para aproveitar toda uma geração de jovens sem futuro. Quase ¼ da população da UE está em risco de pobreza e exclusão social, com uma taxa de desemprego de cerca de 10% da população ativa da UE/28 (para os jovens, é superior a 20%). Um Grupo de Reflexão constituído no âmbito do Conselho Europeu e presidido por Felipe González concluiu, não há muito, que, “pela primeira vez na história recente da Europa, existe um temor generalizado de que as crianças de hoje terão uma situação menos confortável do que a geração dos seus pais.”
No caso de Portugal, sinto-me cada vez mais acompanhado por autores de diferentes orientações ideológicas que defendem que a nossa adesão ao euro, a crise do euro e as políticas de austeridade que nos foram impostas a pretexto do combate à crise (crise do capitalismo e crise do euro) do euro, empobreceram o País e ameaçam uma democracia digna desse nome. Um antigo assessor do Presidente da Comissão Europeia veio a público reconhecer que “a austeridade foi completamente contraproducente, (…) tendo provocado uma profunda, longa e desnecessária recessão económica, (…) com consequências sociais trágicas.” Parece-me perfeita esta síntese de um Colega meu da Universidade de Lisboa (J. Ferreira do Amaral): “Vinte anos depois, a economia portuguesa está destroçada, o estado em bancarrota, o País nas mãos de credores e sujeito a políticas ditas de ajustamento que reforçam esse domínio, os jovens portugueses desesperam e veem-se obrigados a emigrar em massa; o desemprego ultrapassa todos os máximos anteriores; a própria sobrevivência de Portugal está em risco.”
Na Grécia, as consequências são ainda mais graves. A verdade é que o PIB grego não chega a 2% do PIB da zona euro. Teria sido fácil resolver o ‘problema’ grego e evitar a contaminação de outros países, entre os quais Portugal. Mas a Alemanha bloqueou qualquer ação conjunta da UE para salvar a Grécia da especulação que visava a bancarrota do estado. A natureza ‘colonialista’ desta política de austeridade punitiva (pretensamente regeneradora) provocou esta reação de Habermas: “apercebi-me, pela primeira vez, da possibilidade real de um fracasso do projeto europeu.”
Em termos europeus, o desastre foi completo. A moeda única veio mostrar as deficiências e a insustentabilidade de uma união monetária no seio de uma comunidade sem um sentimento de pertença e sem um mínimo de solidariedade (uma verdadeira desunião europeia); uma comunidade marcada pela desigualdade entre os estados-membros no que toca à definição e condução das políticas comunitárias, por desigualdades crescentes de níveis de vida, pela autêntica ‘colonização’ dos países mais débeis pelos países mais fortes.
Nesta ‘Europa’ dividida em países credores e países devedores, estes (“a nova classe baixa da UE”) estão condenados a “aceitar as perdas de soberania e as ofensas à sua dignidade nacional”, e “o seu destino é incerto: na melhor das hipóteses, federalismo; na pior das hipóteses, neocolonialismo.” (cito Ulrich Beck) Como, na minha ótica, o ‘federalismo’ europeu (a lógica da mais Europa) se tem revelado sempre um instrumento de domínio, o dilema fica desfeito: na Europa do euro não há, para os países mais débeis, outro destino que não seja o neocolonialismo (não tão neo como isso). Em 30.7.2012 o atual Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker declarava numa entrevista que “a Alemanha trata a zona euro como se fosse uma sua filial.”
Algo vai mal no reino do euro, um ‘reino’ em que – no dizer de Joschka Fisher – “ninguém pode fazer política contra os mercados”, isto é, um ‘reino’ onde a soberania reside nos mercados, o que significa que a soberania não reside no povo, um ‘reino’ em que se aceita a morte da política, i.é, a morte da democracia, um ‘reino’ que concretiza os perigos do fascismo de mercado, para os quais alertava, já em 1980, o insuspeito Paul Samuelson, numa conferência que proferiu na cidade do México.
Em julho/2012, o semanário inglês New Statesman proclamava: “A mania da austeridade de Angela Merkel está a destruir a Europa.” Mais recentemente, o referido Joschka Fischer dramatiza ainda mais as suas preocupações: “A Alemanha destruiu-se – a si e à ordem europeia – duas vezes no século XX. (…) Seria ao mesmo tempo trágico e irónico que uma Alemanha restaurada (…) trouxesse a ruína da ordem europeia pela terceira vez.”
Ficamos gelados ao ler isto, mas a fuga à realidade não resolve os problemas que a vida nos coloca. A História não se reescreve, mas também não se apaga. Não tenho tanta certeza de que não se repita. Se queremos evitar o regresso da barbárie, é essencial que preservar a memória, é fundamental não esquecer as lições da História.
A ‘Europa’ deixou de existir, politica e moralmente. Qual Europa de Vichy, capitulou perante a Grande Alemanha. E esta Europa alemã (quem o diz é Ulrich Beck) “viola as condições fundamentais de uma sociedade europeia em que valha a pena viver.” “A integração europeia – conclui outro sociólogo alemão, Wolfgang Streeck – transformou-se numa catástrofe política e económica.” E, sendo assim, creio que Joseph Stiglitz tem razão quando defende (2013) que “a Europa poderá ter que deixar cair o euro para se salvar a si própria.”
Em 2015, no auge da chamada crise grega, o New York Times sentenciava: “os mercados financeiros pensam que a Grécia não tem qualquer outra escolha que não seja abandonar o euro.” Toda a gente dizia então que o Ministro das Finanças alemão tinha um plano para correr a Grécia do euro (já em 2011 a comunicação social dava conta de que Schäuble teria proposto ao governo grego uma saída negociada do euro). Em julho/2015, ficou a saber-se que o próprio Presidente da Comissão Europeia admitia que “a Comissão tem um cenário de Grexit preparado e em detalhe.” Numa das reuniões do Eurogrupo, após o referendo realizado na Grécia em 5.7.2015, foi presente uma proposta formal da Alemanha no sentido de afastar a Grécia do euro durante cinco anos.
Uma proposta mais refinada (mais cínica) foi apresentada por François Hollande já no início de agosto/2015: reservar o euro para um núcleo duro de sete países (os sete magníficos, os donos da ‘Europa’) e criar um euro fraco para os restantes. Estes são os mais fracos (os devedores), que se sabe vão continuar a ficar cada vez mais fracos e mais pobres. Para isso estão a destruir as suas economias e baixar os salários e os direitos dos trabalhadores, sabendo que uma economia assente em mão-de-obra barata só poderá tornar-se ainda mais pobre. E, pelos vistos, os ‘pobres’ não têm lugar no clube dos ricos que é a UE. A menos que aceitem transformar-se em economias escravas (Financial Times) no seio da UE imperialista. O euro alemão não oferece outra alternativa: aos ‘pobres’ só resta aceitar “as perdas de soberania” e “as ofensas à sua dignidade nacional” (Ulrich Beck) e o seu papel de povos-escravizados-pela-dívida e pela impossibilidade de crescer (repito: é este o objetivo do Tratado Orçamental enquanto pacto colonial/pacto de subdesenvolvimento). Se não aceitarem a sua ‘sorte’, acabam por ser escorraçados do clube do euro. Se alguém pensou que o euro poderia ser uma espécie de cimento da ‘Europa’, a história da moeda única europeia desfez esse ‘sonho lindo’: o euro alemão está a destruir a Europa e, se os povos europeus não tomarem em mãos o seu destino, ele acabará por forçar a implosão da Europa.
Muitos acreditam que, a bem ou a mal, a Grécia vai ter de sair da zona euro. E de muitos lados vem também a previsão de que Portugal virá a seguir. O melhor, por isso, é que estes povos (e outros) estejam preparados para o que aí vier. Porque só deste modo estarão em condições de acertar com os ‘donos’ da UEM uma saída que diminua os custos que ela implica para os trabalhadores e para a economia nacional.
Em Portugal esta é uma questão em aberto. Dei conta deste debate num livro editado em São Paulo, em 2016, pela Editora Contracorrente: QUO VADIS, EUROPA?, com Prefácio do Prof. Doutor Fernando Scaff).
5) Haverá novos “Brexits”?
AN – Colocada assim a questão, sou levado a dizer que não. Porque as razões que levaram a maioria dos ingleses a dizer não à União Europeia são bastante específicas.
Eu creio que os ingleses ainda não desistiram de se ver como o centro do grande império colonial que dominou meio mundo. Por outro lado, as revoluções burguesas nas Ilhas Britânicas foram sempre revoluções dos ingleses, que prezam muito os seus direitos democráticos a sua soberania, que não gostam de partilhar com outros povos (ou outros estados). O Reino Unido sempre esteve com um pé dentro e outro pé fora da ‘Europa’, nunca aceitaram bem que as instâncias comunitárias invadissem a esfera da sua soberania nacional (tinham regimes especiais em vários pontos) e sempre rejeitaram a adesão ao euro, porque dão preferência à manutenção do estatuto da City de Londres como grande praça financeira mundial (em certo sentido, o maior paraíso fiscal do mundo). Desde o início, o que lhes interessava era o mercado europeu unificado e aberto ao ‘livre comércio’.
Penso que muitos britânicos votaram pela saída da UE por discordarem (com inteira razão, a meu ver) da ‘Europa’ das regras alemãs, comandada por Berlim por intermédio de Bruxelas, a ‘Europa’ dos eurocratas submissos à Alemanha (ou ao chamado eixo franco-alemão). Por não aceitar a matriz alemã do Tratado Orçamental é que o neoliberal David Cameron veio a público criticar aquele Tratado porque ele “tornava ilegal o keynesianismo.” Eu digo mais: o que ele consagra, verdadeiramente, é a ilegalização da democracia, ao transformar em normas jurídicas de tipo ‘constitucional’ pontos de vista doutrinários em matéria de política económica que representam as opções políticas do grande capital financeiro, as opções que têm servido de base às políticas de globalização neoliberal. O próprio Felipe González não esconde que, perante este tratado, “os cidadãos pensam, com razão, que os governantes obedecem a interesses diferentes, impostos por poderes estranhos e superiores, a que chamamos mercados financeiros e/ou Europa. É perigoso, pois tem algo de verdade indiscutível.” Tem tudo de verdade indiscutível, direi eu: os direitos mais elementares dos povos da Europa são sacrificados aos interesses inconfessáveis dos mercados financeiros, aos desígnios da entidade mítica a que chamam ‘Europa’, impostos por poderes estranhos e superiores.
É hoje claro que o euro e as suas regras têm causado problemas mesmo aos países ‘centrais’ da UE, como a Itália, a França e a Holanda, cujas economias não aguentam as exigências do deutsche euro (que Romano Prodi classificou de estúpidas e medievais).
É certo também que o novo poder da Alemanha, nesta Europa à deriva, que parece perdida de si mesma e perdida na História, está, com razão, a assustar muita gente. A Europa alemã está a levar demasiado longe a sua arrogância e a sua desumanidade. O mal-estar cresce por toda a Europa.
“Nos países mediterrânicos – escreve Wolfgang Streeck –, e em certa medida na França, a Alemanha é hoje mais detestada do que nunca desde 1945.”
A verdade é que até o ex-Primeiro-Ministro italiano anunciou a sua preocupação: “Eu digo à Alemanha: basta! Humilhar um parceiro europeu é impensável.” É impensável, mas aconteceu e com a conivência do Sr. Mateo Renzi…
Na França, foi o secretário-geral do PS francês que escreveu e tornou pública uma carta aberta ao povo alemão, de que os jornais deram conta, em que propõe que a Alemanha repense o seu lugar na Europa. Escreve ele: “A Europa, meu querido amigo, não entende a obstinação do vosso país em seguir o caminho da austeridade. Será que o vosso país esqueceu o apoio dado pela França depois daqueles crimes atrozes cometidos em vosso nome? (…) A França e a Europa deixaram a Alemanha tornar-se a potência que é hoje. (…) Mas, querido amigo, a Alemanha tem de se organizar e depressa.” Antes que seja demasiado tarde, digo eu. Mas o mesmo têm que fazer os partidos socialistas europeus, porque com os Hollande e os Macron não vamos lá. Com os Le Pen, muito menos.
Os povos vêm rejeitando esta ‘esquerda’ que abandonou os trabalhadores, uma “esquerda sem projeto nem reflexão”, uma “esquerda que não tem outro projeto além da construção europeia, a Europa”, uma esquerda que, por respeito ao deus mercado, defende e pratica “uma política ainda mais à direita do que a direita.” (George Sarre). A Frente Nacional representava menos de 1% dos votos dos franceses quando Mitterrand chegou à Presidência da República, em 1981; Marine Le Pen chega agora ao segundo lugar da primeira volta com mais de 20% dos sufrágios, tendo recebido na segunda volta o voto de 34,5% dos eleitores. Muitos dos que recusaram a sua eleição, apelando ao voto em Macron (o candidato do grande capital financeiro, fiel cumpridor das regras alemãs que governam a ‘Europa’), fazem exatamente parte do que tornou possível a ascensão da extrema direita (prometendo uma coisa em campanha e fazendo outra no governo; dizendo-se de esquerda e praticando políticas de direita, gabando-se mesmo de conseguir fazer coisas que a direita não conseguiria fazer) e propõem-se continuar fiéis às políticas que tornaram possível aquela ascensão. E continuam a apresentar a ‘Europa’ como a única salvação ou mesmo como o paraíso na terra, ignorando os milhões de franceses que rejeitaram tal ‘Europa’ (a “Europa como ela é”, de que falava, em 2005, Jacques Chirac): mais de 50%, se juntarmos aos votos em Le Pen os 15,1% de votos nulos e brancos e 5% dos 25% que se abstiveram (por não se considerarem representados por nenhum dos candidatos).
A democracia, mesmo que limitada às eleições periódicas, não pode traduzir-se numa não escolha, não pode limitar-se a escolher o mau para evitar o péssimo, não pode condenar as pessoas a não escolher o que querem, aceitando o que não querem para entregar o poder àqueles cuja política torna possível os perigos que se querem evitar, mantendo, afinal, a política que alimenta aqueles perigos, adiando apenas o embate final, quem sabe se em piores condições do que agora.
A meu ver, a Europa não pode continuar neste caminho suicidário, de ‘vitória’ em ‘vitória’ até à derrota final. Alguma coisa tem que mudar. O que me preocupa é a questão de saber em que sentido, no curto prazo, vai operar-se esta mudança.
No contexto europeu, é hoje muito claro que a atual crise do capitalismo se está a traduzir em uma crise do euro, uma crise da ‘Europa’, uma crise da democracia. Vários são os autores que convergem nesta análise, com destaque (talvez não seja por acaso) para autores alemães. Habermas defende que as soluções consagradas no Tratado de Maastricht não podem deixar de “corroer qualquer credibilidade democrática.” E Ulrich Beck não tem dúvidas: “a crise do euro tirou definitivamente a legitimidade à Europa neoliberal.”
Segundo este destacado sociólogo alemão, os governos impõem políticas de austeridade “que salvam bancos com quantias de dinheiro inimagináveis, mas desperdiçam o futuro das gerações jovens”, políticas “geradoras de tanta desigualdade e injustiça, que imputam, escandalosamente, aos grupos mais fracos os custos resultantes de um sistema financeiro que ficou sem controlo.” É uma situação – diz ele – caraterizada pela “assimetria entre poder e legitimidade. Um grande poder e pouca legitimidade do lado do capital e dos estados, um pequeno poder e uma elevada legitimidade do lado daqueles que protestam.” Se os órgãos que detêm o poder politico não têm legitimidade, não é possível falar de democracia.
As ‘regras’ impostas pelo novo Leviathan equivalem, pois, à substituição da política pelo mercado, à negação da política (e da liberdade de decisão que ela pressupõe, com a correspetiva responsabilidade), à negação da cidadania e à morte da democracia. É este o papel do Tratado Orçamental, ao impor a ‘colonização’ dos mais fracos pelos mais fortes, condenados aqueles ao empobrecimento, despojados dos seus recursos e das suas empresas estratégicas, com a consequente destruição do mínimo de coesão social e da comunidade social em que assenta a soberania.
O Leviathan dos nossos tempos, enquadrado pela ideologia neoliberal, coloca acima de tudo as liberdades do capital, governando segundo as ‘leis do mercado’ (a constituição das constituições). O moderno Leviathan é “o poder político que já não se separa do poder económico e, sobretudo, do poder financeiro.” (Étienne Balibar) É a ditadura do grande capital financeiro.
Em livro recente, Wolfgang Streeck fala de um processo de esvaziamento da democracia cujo objetivo é o de eliminar “a tensão entre capitalismo e democracia”, procurando a “imunização do capitalismo contra intervenções da democracia de massas”, libertando o mercado das exigências da vida democrática e assegurando o “primado duradouro do mercado sobre a política”.
A reflexão deste autor alemão ajuda-nos a perceber o que está em causa quando as vozes ‘dominantes’ nesta Europa alemã falam de reformas estruturais, de regras de ouro, da independência dos bancos centrais, da reforma do estado, de finanças sãs, da necessária reforma do estado social, do papel insubstituível das agências reguladoras independentes, dos benefícios da concertação social, da flexibilização do mercado de trabalho, da necessidade de ‘libertar’ a ação política (nomeadamente da política financeira) do controlo do Tribunal Constitucional.
Este processo – sublinha Streeck – vem sendo prosseguido “através de uma reeducação neoliberal dos cidadãos”, porque não está disponível atualmente a hipótese de “abolição da democracia segundo o modelo chileno dos anos 1970.” Mas fica o aviso. As soluções ’brandas’ que têm sido adotadas (suficientemente ‘musculadas’ e violentas para constituírem ‘pecado’ contra a dignidade dos povos – J.-C. Juncker dixit) só serão prosseguidas se “o modelo chileno dos anos 1970” não ficar disponível para o grande capital financeiro. Se as condições o permitirem (ou o impuserem, por não ser possível continuar o aprofundamento da exploração dos trabalhadores através dos métodos ‘reformistas’), o estado capitalista pode vestir-se e armar-se de novo como estado fascista, sem as máscaras que atualmente utiliza.
Dito isto, quero deixar claro que as questões em aberto não se resolvem pondo bigodes à Hitler nos retratos da Srª Merkel. O regresso da Grande Alemanha fez regressar os medos históricos da Europa, cujos povos têm sido secularmente martirizados e dizimados por guerras que não são as suas. E a extrema direita fascistóide já está no governo na Hungria e na Finlândia. E grupos nazis foram colocados no governo da Ucrânia pelas chamadas democracias ocidentais, que nunca mais aprendem a história do aprendiz de feiticeiro.
No entanto, sabemos hoje que a 1ª Guerra Mundial não ocorreu porque um nacionalista sérvio matou um arquiduque numa rua de Sarajevo. E sabemos também que o nazi-fascismo não se confunde com a personalidade psicopática e com as ideias criminosas de Adolf Hitler. O nazi-fascismo foi o resultado da aliança entre o partido nacional-socialista, os grandes monopólios alemães (da indústria e da finança) e os grandes latifundiários, que, em determinadas condições históricas (da história do capitalismo), utilizaram o partido nazi como instrumento para prosseguir os seus próprios objetivos de destruir o movimento operário e de combater a ameaça comunista, que vinha com os ventos de leste, originários da Rússia dos sovietes.
O que hoje se passa aos nossos olhos é o fruto da ditadura do grande capital financeiro, que ganhou supremacia relativamente ao capital produtivo (Keynes alertou para os perigos de uma situação deste tipo), produziu a ideologia neoliberal e tornou o mundo dependente dela, para seu proveito. Estes têm de ser os alvos do nosso combate, em especial no plano da luta ideológica, um terreno privilegiado da luta de classes nestes nossos tempos. E este combate obriga-nos a retirar a discussão destes temas dos ambientes almofadados do bunker de vidro de Bruxelas e dos corredores de todas as comissões trilaterais do mundo, trazendo-a para as universidades, para os sindicatos e para a praça pública, onde está o povo e a cidadania, onde acontece a História. Os intelectuais em geral e os universitários em particular têm especiais responsabilidades neste domínio.
A presente crise do capitalismo tem vindo a acentuar e a evidenciar as contradições do ‘mundo velho’ que se julga predestinado para ser eterno. Só a luta organizada e consciente dos povos da Europa e do mundo pode evitar que este poder ilegítimo, que representa já um grave retrocesso democrático e civilizacional, arraste, mais uma vez, a Europa e o mundo para uma nova era de barbárie, e pode permitir que a crise abra o caminho para uma nova ordem europeia e mundial, assente na cooperação e na paz entre os povos. As condições não parecem particularmente favoráveis, mas não resta outro caminho, se queremos salvar a democracia. Temos de fazer como o operário em construção do belíssimo poema de Vinicius de Moraes, que, chegado o momento, em vez de SIM disse NÃO.
6) O senhor participou da Revolução dos Cravos contra o fascismo. Seria possível outra revolução contra o neoliberalismo?
AN – Vamos por partes. No grande oceano popular dos que lutaram em Portugal contra o fascismo, eu fui apenas uma pequena gota. O que aconteceu é que, consolidada a Revolução desencadeada pelos militares do Movimento das Forças Armadas, eu integrei os cinco primeiros Governos do Portugal democrático, tendo saído quando o General Vasco Gonçalves deixou de ser Primeiro-Ministro, momento que marcou o início da contra-revolução em Portugal.
A sua pergunta fez-me lembrar uma inscrição de um grupo ‘anarquista’ num dos muros próximos da Universidade de Coimbra: “Só não há revolução porque não há revolucionários. Motivos não faltam.”
Pois é. Motivos não faltam. Eu partilho da opinião autorizada de Eric Hobsbawm: “o futuro não pode ser uma continuação do passado, e há sinais, tanto externamente como internamente, de que chegámos a um ponto de crise histórica. (…) o nosso mundo corre o risco de explosão. Tem de mudar.”
Partindo desta convicção, entendo que o nosso papel é fazer deste tempo de grandes contradições e de grande desespero um tempo que seja também tempo de esperança. A vida mostra que o homem não deixou de ser o lobo do homem. Mas os ganhos de produtividade resultantes da revolução científica e tecnológica que tem caraterizado os últimos duzentos anos de vida da humanidade dão-nos razões para confiar em que podemos construir um mundo de cooperação e de solidariedade, um mundo capaz de responder satisfatoriamente às necessidades fundamentais de todos os habitantes do planeta.
A ideologia dominante apresenta sistematicamente a globalização neoliberal como uma fatalidade a que não podemos fugir, pura consequência ‘mecânica’, inevitável do desenvolvimento científico e tecnológico (tão inevitável como o facto de o sol nascer todos os dias). Eu entendo que ela é antes um projecto político, concebido e levado a cabo de forma consciente e sistemática pelos grandes senhores do mundo, apoiados, com nunca antes na história, pelo poderoso arsenal dos aparelhos produtores e difusores da ideologia dominante, o totalitarismo do pensamento único assente nos dogmas do neoliberalismo.
À luz deste entendimento, é claro que a revolução científica e tecnológica não pode ser confundida com a globalização nem pode ver-se nesta o resultado inevitável daquela.
É verdade que nos primeiros tempos da revolução industrial os operários viram nas máquinas o seu ‘inimigo’ e por isso as destruíram e sabotaram. Cedo compreenderam, porém, que o seu inimigo de classe nunca poderiam ser as máquinas, mas uma outra classe social. Ninguém de bom senso e de boa fé pode cometer hoje o mesmo erro, considerando que a origem dos nossos males está na revolução científica e tecnológica. Seria imperdoável que o fizéssemos.
O que está mal na globalização atual não é, pois, a revolução científica e tecnológica que torna possíveis alguns dos instrumentos da ‘política neoliberal globalizadora’, mas o neoliberalismo que a alimenta, a estrutura dos poderes em que ela se apoia, os interesses que serve, cada vez mais os interesses da pequena elite do grande capital financeiro-especulador.
A crítica da globalização neoliberal não pode, pois, confundir-se com a defesa do regresso a um qualquer ‘paraíso perdido’, negador da ciência e do progresso. Porque o desenvolvimento científico e tecnológico é o caminho da libertação do homem.
Sendo a globalização neoliberal um projeto político, os seus adversários, empenhados em evitar uma nova era de barbárie, têm de ser capazes de pôr de pé um projeto político alternativo, que assente na confiança no homem e nas suas capacidades, um projeto inspirado em valores e empenhado em objetivos que “os mercados” não reconhecem nem são capazes de prosseguir, um projeto que rejeite a lógica determinista que nos quer impor, como inevitável, sem alternativa possível, a atual globalização neoliberal, uma das marcas desta civilização-fim-da-história.
Esta é, a meu ver, a equação correta para compreender o capitalismo dos nossos tempos, as suas forças e as suas fraquezas. Apoiando teoricamente os nossos pontos de vista, temos de aproveitar bem as brechas que se vão abrindo na fortaleza do capitalismo globalizado, apesar da ‘ditadura global’ que carateriza este tempo. “Os que protestam contra a globalização – escrevia The Economist, de 23.9.2000 – têm razão quando dizem que a questão moral, política e económica mais urgente do nosso tempo é a pobreza do Terceiro Mundo. E têm razão quando dizem que a onda de globalização, por muito potentes que sejam os seus motores, pode ser travada. É o facto de ambas as coisas serem verdadeiras que torna os que protestam contra a globalização tão terrivelmente perigosos”.
Num momento de lucidez, um dos faróis do neoliberalismo veio dizer o que nós já sabíamos: os motores da globalização neoliberal podem ser parados ou mesmo postos a andar em marcha atrás; a inevitabilidade da globalização neoliberal é um mito; a tese de que não há alternativa é um embuste.
Incluo-me no número dos que acreditam que, perante as contradições por ela própria desencadeadas, a globalização neoliberal “aciona forças que colocam em relevo não somente a incontrolabilidade do sistema por qualquer processo racional, mas também, e ao mesmo tempo, a sua própria incapacidade de cumprir as funções de controlo que se definem como sua condição de existência e legitimidade.” O capitalismo globalizado pelo grande capital financeiro ganhou força, por um lado. Mas as suas contradições e as suas debilidades estão sujeitas aos efeitos tão bem traduzidos na velha máxima segundo a qual maior a nau, maior a tormenta.
Neste tempo de crise estrutural do capitalismo (o capitalismo assente no crime sistémico), os trabalhadores da Europa, dos EUA e de todo o mundo hão-de compreender a urgência de transformar o mundo, começando por mudar as políticas levadas a cabo nas últimas três ou quatro décadas pelo estado capitalista, cuja natureza de classe talvez em nenhum outro período da história do capitalismo tenha sido tão evidente como hoje.
Para sairmos desta caminhada vertiginosa para o abismo, é necessário evitar que o mercado substitua a política, que as ‘leis do mercado’ se sobreponham aos normativos constitucionais e que o estado democrático ceda o lugar a um qualquer estado tecnocrático.
Aos universitários e aos intelectuais em geral cabe, como cidadãos, como universitários e como intelectuais, uma responsabilidade enorme nas lutas a travar, tanto no que se refere ao trabalho teórico (que nos ajuda a compreender a realidade para melhor intervir sobre ela) como no que respeita à luta ideológica (que nos ajuda a combater os interesses estabelecidos e as ideias feitas), porque a luta ideológica é, hoje mais do que nunca, um fator essencial da luta política e da luta social (da luta de classes).
Sabemos que o desenvolvimento científico e tecnológico que veio com a civilização burguesa proporcionou um aumento meteórico da capacidade de produção e da produtividade do trabalho humano, criando condições mais favoráveis ao progresso social. Este desenvolvimento das forças produtivas (entre as quais avulta o próprio homem, como criador, depositário e utilizador do conhecimento) só carece de novas relações sociais de produção, de um novo modo de organizar a vida coletiva, para que possamos alcançar o que todos buscam: a felicidade.
Mas também sabemos que as mudanças necessárias não acontecem só porque nós acreditamos que é possível um mundo melhor: o voluntarismo e as boas intenções nunca foram o ‘motor da história’. Essas mudanças hão-de verificar-se como resultado das leis de movimento das sociedades humanas. Mas os povos organizados podem acelerar o movimento da história e podem ‘fazer’ a sua própria história, dispondo-se à luta para tornar o sonho realidade.
Sabemos muito bem que o trabalho que nos espera é um trabalho longo e difícil. Vale a pena acreditar nos poetas, acreditando que o sonho comanda a vida e que a utopia ajuda a fazer o caminho. Em tempos de (outra) ditadura, Chico Buarque sonhava e cantava o seu “sonho impossível”, porque acreditava nele, apontando-nos o caminho: “Lutar, quando é fácil ceder / (…) Negar, quando a regra é vender / (…) E o mundo vai ver uma flor / Brotar do impossível chão”. Apesar das dificuldades, temos de dar razão a Geraldo Vandré (que o Chico cantou): “quem sabe faz a hora, não espera acontecer.” Porque (ainda o Chico) “quem espera nunca alcança”.
António José Avelãs Nunes
Coimbra, 29 de maio de 2017
Em tempo: o professor António José Avelãs Nunes tem um currículo invejável:
CURRÍCULO ABREVIADO
– Licenciatura (1962), Mestrado (1968), Doutoramento (1984) e Agregação (1994) na Faculdade de Direito de Coimbra.
– Professor Catedrático Jubilado da Faculdade de Direito de Coimbra.
– Diretor do Boletim de Ciências Económicas (revista da FDUC), de 1995 a 2012.
– Diretor da Faculdade de Direito de Coimbra, 1996-2000.
– Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, 2003-2009.
– Membro dos cinco Governos imediatamente posteriores à Revolução dos Cravos (1974).
– Observador estrangeiro convidado pelo Ministério da Educação do Brasil para participar na Comissão Trienal de Avaliação dos Cursos de Pós-Graduação em Direito, no âmbito da CAPES (2001, 2004 e 2007).
– Em janeiro/1985 fez o elogio académico de Trancredo Neves, na cerimónia solene do seu Doutoramento Honoris Causa na Universidade de Coimbra.
– Agraciado com Ordem do Rio Branco.
– Doutor Honoris Causa das Universidades Federais de Alagoas, Paraná e Paraíba.
– Sigillo D’Oro da Università Degli Studi di Foggia.
– Membro Correspondente da Academia Brasileira de Direito Constitucional.
– Membro Correspondente da Academia Brasileira de Letras Jurídicas.
– Vice-Presidente do Instituto de Direito Comparado Luso-Brasileiro (Rio de Janeiro).
– Diploma e Comenda Professor Gerson Boson (Associação dos Advogados de Minas Gerais).
– Associado Honorário do CONPEDI.
– Homenageado pelo GRUPO COIMBRA DE UNIVERSIDADES BRASILEIRAS (2011).
Livros editados no Brasil:
▬ O Direito de Exclusão de Sócios nas Sociedades Comerciais, São Paulo, Editora Cultural Paulista, 2001 (Prefácio do Prof. Doutor Renato Ventura Ribeiro), 296 págs.
▬ Neoliberalismo e Direitos Humanos, Rio de Janeiro São Paulo, Renovar, 2003, 135 págs.
▬ Industrialização e Desenvolvimento – A economia política do ‘modelo brasileiro de desenvolvimento’, São Paulo, Quartier Latin, 2005 (Prefácio do Prof. Doutor Celso Furtado), 687 págs.
▬ A Constituição Européia: A Constitucionalização do Neoliberalismo), São Paulo, Coimbra Editora e Editora Revista dos Tribunais, 2007, 140 págs.
▬ Uma Introdução à Economia Política, São Paulo, Quartier Latin, 2007, 632 págs.
▬ Do capitalismo e do socialismo (polémica com Ian Tinbergen, Prémio Nobel da Economia), Florianópolis, Fundação Boiteux, 2008 (Prefácio do Prof. Doutor Gilberto Bercovici e uma Nota de Apresentação do autor), 128 págs.
▬ Os Tribunais e o Direito à Saúde (o livro contém também um texto do Professor Doutor Fernando Facury Scaff), Porto Alegre, Livraria do Advogado Editora, fevereiro/2011 (páginas 11 a 72).
▬ As Voltas que o mundo dá… Reflexões a propósito das aventuras e desventuras do estado social, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2011, 266 págs.
▬ A Crise Atual do Capitalismo – Capital Financeiro, Neoliberalismo, Globalização, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2012 (Prefácio do Prof. Doutor Eros Roberto Grau), 190 págs.
▬ O estado capitalista e as suas máscaras, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2013 (Prefácio do Prof. Doutor Fábio Konder Comparato), 394 págs.
▬ Ofício de Orador, Belo Horizonte, Editora Fórum, 2016 (Prefácio do Prof. Doutor Francisco Amaral), 377 págs.
▬ Os trabalhadores e a crise do capitalismo, Florianópolis, Empório do Direito, 2016 (Prefácio do Prof. Doutor Luiz Alberto David Araújo), 180 págs.
▬ QUO VADIS, EUROPA?, São Paulo, Editora Contracorrente, 2016 (Prefácio do Prof. Doutor Fernando Facury Scaff), 368 págs.
▬ O neoliberalismo não é compatível com a democracia, Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris e Faculdade Guanambi Editora, 2016 (a Apresentação do livro e do Autor é do Prof. Doutor Fábio Corrêa de Oliveira; o Prof. Doutor Luís Roberto Barroso escreveu o Prefácio; o Autor escreveu Uma palavra de apresentação), 326 págs.
▬ A REVOLUÇÃO FRANCESA – As Origens do Capitalismo – A Nova Ordem Jurídica Burguesa, Belo Horizonte, Editora Fórum, 2017 (Prefácio do Prof. Doutor Luiz Edson Fachin), 175 páginas.
▬ As origens da ciência económica – Dos “economistas” à “Crítica da Economia Política” (Fisiocracia, Smith, Ricardo, Marx), Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2017 (com Prefácio do Prof. Doutor Martonio Barreto de Lima).